Alexander Turra fala sobre COP30, Margem Equatorial, Pesca e Plásticos
Professor do Instituto Oceanográfico da USP (Universidade de São Paulo) conversou no dia 26.ago.2025 com o Correio Sabiá
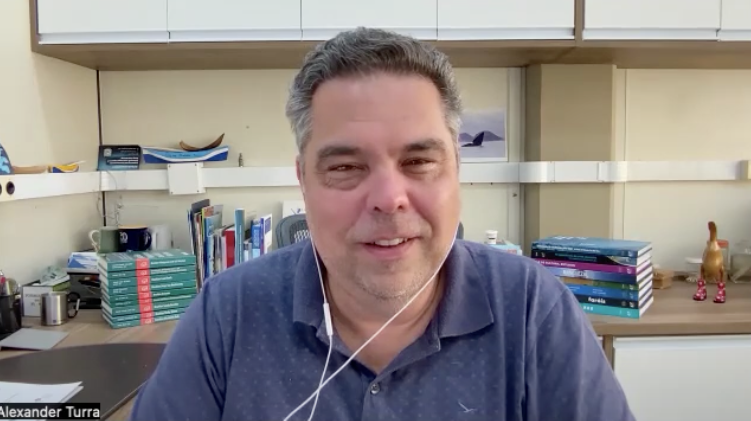
Professor do Instituto Oceanográfico da USP (Universidade de São Paulo), Alexander Turra conversou no dia 26.ago.2025 com o Correio Sabiá.
Assista no canal do Correio Sabiá no YouTube:
Abaixo, a transcrição completa da entrevista com Alexander Turra:
Mosaico de áreas protegidas na Foz do Amazonas
Lançamos em Belém (...) um documento de cenários estratégicos para a Foz do Amazonas. Então, tem um início de ideias e reflexões sobre o que precisa acontecer para que, no caso de cenário de exploração de óleo, o território se beneficie com isso, efetivamente, porque esse é o grande argumento: 'o óleo virá para desenvolver a região'. Mas não necessariamente. Pode ser que sim, entende? O que precisa acontecer para ser 'sim' ou 'não'? Esse é o ponto.
[O documento] está propondo um mosaico de áreas protegidas, a criação de um Instituto Nacional da Foz do Amazonas para amplificar o potencial das universidades... A gente vai dar sequência nisso, fazer complementações. Tem várias coisas que podem ser colocadas aqui, como se fosse uma grande plataforma de condições para que o óleo possa efetivamente trazer algo positivo.
Exploração da Margem Equatorial
Correio Sabiá: "O que o óleo –a exploração do óleo naquela região– pode trazer de positivo? É possível conciliar com a preservação ambiental?"
Tenho minha opinião pessoal, né?, e tenho minha opinião conjuntural. Minha opinião pessoal, quando comecei a ouvir falar de exploração na Margem Equatorial, exploração de óleo, eu falei: 'puxa, talvez isso não seja interessante, né?, de se abrir uma nova via [de exploração], de se abrir uma nova via de contaminação e de transformação do território.' E assinei alguns documentos que foram feitos buscando trazer o Brasil para a transição energética.
Essa exploração de óleo, ela não necessariamente leva o Brasil para a transição energética. É claro que esse não é o único contexto em que a decisão está sendo tomada. Tem aspectos geopolíticos e de independência energética do Brasil no curto e médio prazo, que fazem com que o Brasil precise ainda explorar óleo. Pelo menos esse é o entendimento de alguns grupos, se isso for uma decisão estratégica. Obviamente isso vai trazer problemas. Vai trazer potencialidades e problemas. O problema associado ao vazamento, à transformação do território, uma série de coisas. Mas as potencialidades estão muito associadas à riqueza, a uma dinamização da economia, e é por isso que você tem que preparar a região usando os aprendizados da Bacia de Santos, da Bacia de Campos, e que ajudaram a se pensar como você pode internalizar algumas externalidades na própria atividade.
Royalties para a Margem Equatorial
Então, aí você tem formas de minimizar os riscos e amplificar os benefícios. Por exemplo, os royalties. Os royalties, eles são muito desejados pelo Estado, pelos estados e pelos municípios –e eles podem efetivamente fazer a diferença.
Eles foram pensados para fazer uma diferença e para preparar a região para um cenário sem óleo. Só que não acontece isso no Rio e em São Paulo. Então, o que se tem que fazer é buscar uma forma de garantir que esses royalties sejam aplicados de uma forma mais estratégica, de forma transparente, e isso é uma coisa que tem que ser fortalecida.
Então, outra abordagem é implementar políticas públicas que já estão instituídas, mas que não foram implementadas, como o Projeto Orla, os planos diretores serem melhor estruturados, os planos de bacias, o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, coisas que vão ajudar a construir uma malha.
Correio Sabiá: "O senhor propõe, por exemplo, a criação de um fundo para obrigar a destinação desses recursos para criar resiliência ambiental?"
Por exemplo. Esse é um outro caminho que já foi aventado. O documento não fala isso de forma explícita. É um fundo, mas ele vê dinheiro, recursos sendo canalizados para essas diferentes finalidades e diferentes jeitos.
Por exemplo, condicionantes de licença no licenciamento, verba de pesquisa e desenvolvimento, via INP, beneficiando as universidades locais, via orçamento, que vai ser melhorado, vai ser aumentado por conta da participação do governo nos dividendos da Petrobras, então o governo federal vai poder contratar mais professores, vai poder abrir novos institutos federais na região, sabe assim?
Pensando de forma bem estruturada, né? E é claro, os royalties, né? Os royalties já estão dados assim, mas você precisa usá-los de forma adequada. E, obviamente, a composição de um fundo... O fundo pode ser uma coisa adicional, né?
Pode ser uma coisa adicional. A gente propõe, inclusive, que seja fomentado o sistema de vigilância da Amazônia Azul na região, que é capitaneado pela Marinha. A gente tem tentado ver coisas estratégicas baseadas numa capacidade limitada.
Não era um número muito grande de pessoas participando, eram algumas instituições, especialmente da região, mas eu acho que dá para expandir isso e ter uma plataforma de diálogo com o cenário de exploração de óleo para se ter, efetivamente, ganhos na região.
Com base nesse aprendizado. E aí eu vejo que, com isso, essas coisas sendo negociadas e colocadas lá no licenciamento, ou como compromisso do Brasil na COP... A gente está apostando muito isso: que o Brasil possa trazer alguns desses elementos como contrapartidas, porque, obviamente, o Brasil vai ser questionado na COP sobre isso. E o Brasil tem que mostrar: 'tá bom, a gente está indo nesse sentido, mas a gente também está se preparando para fazer isso de uma forma diferente'.
É uma tentativa de trazer um caminho, de ilustrar um caminho, que não seja dizer 'não' para o óleo, mas que seja dizer 'sim' para que o óleo possa, efetivamente... E daí, é o que eu falei esses dias lá. Foi que eu mudei minha fala umas 10 vezes ouvindo os outros ali, daí na hora que eu comecei a falar, eu falei assim: 'ó, eu estou aqui para falar de uma unanimidade'. Aí o pessoal olhou meio esquisito para mim e falei: 'todo mundo aqui, a princípio, está querendo desenvolver a região'.
É verdade. É o discurso, né?, do presidente do Senado, do Randolfe [Rodrigues], que é líder do governo no Senado, do governador, das secretarias, da população que está com uma vontade de ter a sua realidade mudada. E aí eu usei esse argumento, que é um pouco falacioso, mas eu usei esse argumento para poder trazer um foco convergente de se pensar: 'tá bom, todo mundo quer desenvolver'.
É claro que talvez haja diferenças no entendimento do que é desenvolvimento. Há diferenças, e aí o que a gente tem que entender é como que a gente cria um canal de diálogo para qualificar [o debate]. Então, por exemplo, o Instituto Nacional da Foz do Amazonas, da forma como eu penso ele, não é um instituto para fazer a pesquisa que as universidades fazem. Elas têm que fazer e têm que ampliar e tal.
Ele [instituto] tem que ser um grande articulador para recortar essas informações dentro de cenários estratégicos. É um centro, por exemplo, que vai pensar como desenvolver uma economia sustentável do mar na região. O do rio, do mar e do estuário. Porque ali é um universo à parte.
E como se pensar, por exemplo, nessa economia... Quando a gente fala em economia sustentável do oceano, a gente não está falando de economia do mar, dentro da qual o óleo se insere. A gente está falando de outras realidades, que são baseadas no turismo, na biotecnologia ou bioeconomia, no sequestro de carbono, créditos de biodiversidade, enfim, um universo de coisas diferentes.
O que é desenvolvimento? O desenvolvimento é você ter peixe saudável para comer. Ter caranguejo saudável para comer, sem óleo, sem contaminação. E aí tem algumas coisas super esquisitas. 'O óleo está lá na Casa do Chapéu, ele não vai chegar para cá'. Como se não tivesse navio trazendo para a costa, como se não tivesse duto trazendo para a costa, como se não tivessem 'N' outras coisas acontecendo. E às vezes a discussão vai para um lado meio estapafúrdio.
E é por isso que a gente tem que pensar e por isso que eu acho que a gente tem que chegar, botar a bola no chão e falar assim: 'tá, vamos tirar as arestas aí, vamos falar do que realmente é o ponto'. E aí, trabalhar. E aí, você vê hoje o Ibama fazendo um diálogo muito próximo com a Petrobras para trazer os resguardos necessários para fazer esse movimento.
Enfim, esse é um pouco o meu perfil. Eu, quando vejo uma questão, eu não estresso ela, eu tendo a convergir. Buscar convergências. E eu acho que é um pouco do papel da universidade ao ter uma posição um pouco mais neutra, politicamente falando. E, partidariamente falando, poder animar processos ou facilitar processos de discussão.
Correio Sabiá: O que me parece aqui é essa batalha, do ponto de vista dos ambientalistas, como a gente tem se acostumado a colocar, é que ela foi perdida. A exploração do óleo será feita mais cedo ou mais tarde. E aí, agora estamos pensando em formas de mitigar eventuais danos disso. Agora, qual que é a viabilidade mesmo desses planos? De, por exemplo, destinação de parte dos royalties, [de] ser investido em pesquisa, ser investido em medidas de resiliência climática, etc. Qual que é a viabilidade mesmo de implementar isso?
Eu acho que é grande. E aí vai ter que ter uma pactuação política em relação a isso.
Correio Sabiá: E tem ambiente político para isso?
Acho que temos em função da COP, em Belém. Essa é a minha aposta. Porque ali eu vejo que os Estados vão ter que se posicionar. O Brasil vai ter que se posicionar. Então, vejo que a oportunidade é agora de você conseguir –entre muitas aspas; não é uma barganha, mas é assim– criar comprometimentos com uma visão madura de desenvolvimento de longo prazo. E, no longo prazo, o óleo não vai estar.
Correio Sabiá: Isso seria feito, então, em forma de compromisso do Brasil diante dos outros países pelo contexto da COP?
É. Eu vejo que isso seria um caminho bem viável de se fazer. Porque, na verdade, nesse documento, o Brasil pode trazer uma série de outras coisas. E outros atores podem trazer outras coisas. Então, é mais ou menos nesse caminho que eu vejo. Ou seja, o que é necessário ter para a gente poder conversar de forma madura sobre desenvolvimento.
'Amazônia Azul'
Correio Sabiá: É isso. Ótimo. E, professor, falando de COP, quando a gente pensa numa COP na Amazônia, acho que é muito comum as pessoas imaginarem uma grande área verde. Afinal, está sendo falado de Amazônia. Acho que esse é o imaginário comum. Mas a Amazônia também tem uma área azul que é muito grande. Então, queria saber do senhor quais são as discussões mais relevantes sobre oceanos, especificamente, para levar para a COP, do ponto de vista brasileiro.
Você sabe, eu tenho falado assim que a COP30 é uma grande oportunidade da gente promover o diálogo entre a Amazônia Verde e a Amazônia Azul. Ainda mais em Belém, que está ali, no meio dos 2. E isso é legal, porque na agenda internacional de tomada de decisão, o lugar de fala do oceano na agenda do clima, ainda é muito tímido, é muito embrionário. Parece uma criança atrás, pequenininha, atrás do balcão da padaria, pulando para pedir um pão, e o padeiro não vê, sabe? E a gente fala 'ó, o oceano'. O padeiro é o clima, e ele não vê. Às vezes vê a mãozinha ali, mas fala: 'por que esse moleque está aí?' Por que esse oceano está aí?
Para os cientistas, isso está claro, é óbvio. Dentro do IPCC, dentro do IPBS, dentro de várias discussões para a ciência, isso está claro. Mas na tomada de decisão, isso não está. E isso precisa ficar cada vez mais. E em Belém, eu acho que é muito simbólico, porque ali você tem essa conjugação das duas Amazônias.
E aí, o que eu vejo é que é um grande ganho dessa COP, nesse lugar, nesse momento, é criar de forma irreversível, criar não, é fortalecer e inserir, inocular, de forma irreversível, o nexo oceano-clima nas discussões. O oceano como um grande aliado da agenda climática, do ponto de vista tanto da mitigação quanto da adaptação. Como ele é um grande aliado, e essa ajuda que ele nos dá depende da sua vitalidade, da sua saúde, a gente não pode prejudicar a saúde do oceano, porque senão a gente compromete a nossa capacidade de criar oportunidades para combater as mudanças do clima. Então, eu entendo que esse é o ponto dessa discussão nesse momento.
Falta de dados pesqueiros
Correio Sabiá: Ótimo. E, se eu não me engano, da última vez que a gente falou, e abordando um outro ponto relacionado a oceanos, e de grande proporção, da última vez que a gente falou, a gente não tinha muitos dados sobre pesca. A gente nem sequer tinha, tinha, salvo engano, o Ministério da Pesca, da última vez que a gente se falou. Agora a gente tem. Então, eu te pergunto, qual que é a qualidade dos dados pesqueiros que a gente tem hoje em 2025, perto da COP30?
Olha, eu não estou acompanhando essa agenda muito de perto, mas eu vi algumas movimentações do Ministério da Pesca em diálogo com o Ministério do Meio Ambiente, porque o Ministério do Meio Ambiente dialoga com a biodiversidade, e a parte da biodiversidade é de recurso pesqueiro. Então, tem um diálogo estruturado nesse sentido, e o Brasil estava retomando as estatísticas pesqueiras, que é uma estratégia de se entender o que se tem de desembarque [pesqueiro], isso é muito importante.
As pessoas têm que entender que você não necessariamente sabe o que tem no mar, você sabe o que está sendo pescado. E, se você está pescando menos, ao longo do tempo, uma das explicações é porque está faltando pescado lá fora. Pode ser por outras razões também. Se diminuiu a frota... Mas você tem aí uma informação que é ruidosa; é uma informação não tão clara. Em termos de estoques, em saber o que tem na natureza, a gente está muito mal, muito, muito mal das pernas ainda.
A gente tem informações sobre algumas espécies: sardinha, lagosto, um ou outro recurso. Mas, em termos de desembarque, os dados precisam ser sistematizados. E esse que é o momento que a gente está agora, depois de um hiato aí de uns 13, 15 anos, sem esses dados.
É claro, a gente está falando da escala nacional, porque, por exemplo, em São Paulo, por meio do Instituto de Pesca, com uma condicionante de licença da exploração de óleo e gás offshore aqui no estado de São Paulo, já existe um monitoramento da pesca artesanal de pequena escala em toda a área da Bacia de Santos. Esses dados existem, mas uma visão nacional a gente deixou de ter.
Em outros estados você acaba tendo também alguns esforços, mas uma visão nacional você não tinha –e isso em função dessa mudança que ocorreu, para que o IBGE assumisse essas estatísticas pesqueiras, como assumem outras estatísticas no Brasil, só que na passagem do bastão, ele caiu no chão, e aí a gente foi meio que desclassificado nessa prova de revezamento e agora [essa tarefa] está sendo retomada. Então, vejo que a gente ainda não está numa situação ideal, mas estamos caminhando para estar. Essa é a minha percepção do que tenho visto, ainda que não tenha acompanhado muito de perto.
Correio Sabiá: E existe alguma estimativa de um prazo para federalizar esse tipo de informação? Porque, assim, São Paulo, até onde eu sei, é um estado isolado, né?
Não adianta nada, né? Eu não saberia te dizer, honestamente, qual a previsão e o que seria isso na prática, porque você retomar toda uma rede de informação que foi perdida –porque ela existia, era histórica e foi perdida. Mas isso é fundamental. A gente tem que ter, pelo menos, esses dados de desembarque para a gente poder aferir minimamente a vitalidade dos estoques e a própria vitalidade da atividade, que está, a princípio, estancada nos últimos anos. Essa é a estimativa: não está nem aumentando nem diminuindo.
Vamos ter aí que repensar e requalificar essa abordagem para poder promover essa conciliação entre a pesca e a conservação do ambiente e entender onde a gente pode pescar, quanto pode pescar, para quem vai se pescar?
A gente está pescando para quê? Para exportar commodities? E será que isso vale a pena? Será que o prejuízo não anula o benefício que você vai ganhar vendendo em dólar? Enfim, é uma situação muito complexa. Não é a minha área de especialidade, mas é essencial, porque é economia azul. É conservação, a gente tem um milhão de pescadores artesanais no Brasil, a gente está falando de comida, a gente está falando de renda. Então, isso é super importante. Para a gente garantir que essas pessoas continuem tendo comida e renda, é fundamental que tenha pescado. E como fazer isso? E aí que vem, por exemplo, um aparente conflito que, na verdade, não é.
Por exemplo, a Convenção de Diversidade Biológica propõe que até 2030 se tenha pelo menos 30% de áreas marinhas efetivamente protegidas. A gente está longe disso. Embora o Brasil tenha 26%, não necessariamente essas áreas são efetivamente protegidas.
E onde se proteger? E onde, por exemplo, se evitar se a gente está falando de pesca. Então, assim, o entendimento é eu tenho que pescar em menos áreas para poder permitir que o ambiente consiga recuperar as outras áreas e exportar biodiversidade e biomassa. Essas áreas têm que ser definidas, sim, mas têm que ser definidas em conjunto com o setor. Porque o setor tem que defender o seu interesse. E, para defender o seu interesse, ele tem que proteger as áreas que geram peixe.
Isso significa: 70% dos recursos pesqueiros pescados no Brasil dependem em alguma fase do seu ciclo de vida do manguezal. Então, se você corta o manguezal, ato contínuo, você está comprometendo a capacidade do ambiente em produzir aquele recurso pesqueiro que vai ser pescado, sei lá, a 50, 100 metros de profundidade depois.
É essa mesma visão que a gente tem que trazer para o agro. O agro em terra. Em termos de proteção da floresta, em termos de proteção de nascentes, de vitalidade dos rios, de uma série de coisas, inclusive da previsibilidade climática, que a gente pode traduzir em segurança climática, se a gente pode usar esse termo, porque isso é crucial. E isso é crucial, inclusive, para a economia do país. A gente está vendo aqui, na semana que passou, toda uma discussão sobre o nível de endividamento dos produtores rurais dentro do Banco do Brasil, em função muito dessas inseguranças associadas, inclusive à mudança do clima.
E isso traz uma questão econômica, traz uma questão da sustentação dessa atividade ao longo do tempo. E a mesma lógica se aplica aos pescadores e pescadoras. É nisso que a gente tem que se pautar para pensar esse setor. E não um setor ser reativo a regulamentações, porque o setor tem que regulamentar para ele próprio poder continuar existindo.
Eu imagino que a gente quer pensar como que a gente cria um setor e fomenta um setor sem subsídios, efetivamente, para ele poder se manter e ter previsibilidade. Porque não adianta você ter um baita investimento em navio, uma série de coisas e, de repente, você ter ser pego por um comprometimento de um estoque, o colapso de um estoque. Percebe?
Então, essa minha visão mais de gestão costeira, de governança, acho que tem muito espaço para convergência. Quando a gente tira essas visões mais ideológicas e meio que sem fundamento e fala do que importa. O que importa é: o pescador precisa continuar pescando. Para isso tem que ter pescado. O pescado depende de coisas que a gente conhece, a ciência conhece. Então, a gente tem que tomar atitudes juntos. Quais vão ser elas? E aí, a coisa se clareia.
Correio Sabiá: Conversei no início do ano, em fevereiro desse ano, 2025, com alguns pescadores da região amazônica. E a pesca deles de pirarucu era uma pesca sustentável. Eles garantiram ao longo dos anos o estoque pesqueiro deles. Só que eles reclamavam de um problema logístico, que era a armazenagem do pescado e o escoamento desse pescado para outras regiões, o que por sua vez prejudicava a renda deles, porque eles eram obrigados a vender o negócio mais rápido do que eles poderiam. Então, o gargalo desse setor já era outro. Não era ter ou não ter o pescado, porque eles já tinham, mas sim poder escoar o produto.
Pois é, é uma visão de cadeia produtiva, de cadeia de valor, e aí você entende que o pescador nesse cenário acaba tendo um investimento muito grande de energia, de trabalho, e acaba ficando com uma parte muito pequena do retorno financeiro. O retorno é muito pequeno. E esse é um ponto, né? Como que você muda isso? Porque você não precisa necessariamente pescar mais; você pode pescar o quanto você pesca e agregar valor a isso.
Você tem uma iniciativa incrível de um ex-aluno da Federal do Paraná, do Centro Sul do Mar, o Brian, Brian Millen, que chama 'Olha O Peixe', que é um programa de assinatura de pescado. Tipo esse de vinho, sei lá, que você assina e chega lá uma caixinha todo mês para você, tem esse programa de assinatura de pescado que ele basicamente consegue eliminar o atravessador e dar previsibilidade para quem vende e para quem compra, considerando o que está sendo pescado na época do ano.
Isso faz com que as comunidades pesqueiras recebam proporcionalmente mais recursos do que se tivesse um atravessador e isso é muito legal de trabalhar. Ou agregar valor, por exemplo, ao Pirarucu, que tem todo um trabalho de valorização do couro e na indústria da moda. Então, tem parcerias com indústria, com marcas da moda que fazem com que esse produto que a 10, 15 anos não tinha valor nenhum, hoje tem um valor absurdo.
Eu fui num evento em Belém, no Congresso Mundial de Pesca e tinham vários estandes lá. Eu vou dizer assim, uns 4, 5 ali, estavam basicamente mostrando as opções de se usar a pele, o couro. Dependendo da espécie, você vai usar a pele, por exemplo, para fazer um vestido, para trabalhar com moda, trabalhar com outras coisas. E vai desde Pirarucu até tilápia.
Olha só que coisa engraçada: de repente, no futuro, você pode imaginar que o pessoal cria tilápia para vender a pele, e a carne, como subproduto. Hoje é o contrário. Hoje é assim: você produz a proteína e o que agrega mais valor é a proteína, não os subprodutos.
Tem, inclusive, um aluno aqui da Odonto, aqui na USP, que está trabalhando o esqueleto de tilápia para a produção de produtos para se usar em próteses, para se usar no dentista. E aí aquela coisa, que um pouquinho vale muito. O valor agregado é muito alto. Então tem umas soluções que podem fazer com que o peso do pescador e do aquicultor –aquele peso da atividade– isso se atenue e permita que haja uma agregação de valor. E aí você tem uma atividade que traz mais prosperidade para quem investe o seu esforço. Enfim, são exemplos muito concretos que estão acontecendo agora no Brasil. É incrível ver isso.
Tratado de plásticos
Correio Sabiá: Muito interessante. E, professor, falando agora de uma coisa que tem acontecido no Brasil e fora, uma discussão, e que foi assunto que a gente tratou da última vez: o tratado de plásticos fracassou de novo. Por quê?
Trocando em miúdos, acho que temos uma questão complexa, que é uma agenda de fundo que contamina um pouco a origem do processo.
A origem da discussão é por conta do lixo no mar. É isso que motivou toda a discussão nos últimos 20, 25 anos. E é um tema importante, é o tema por onde eu entrei na discussão, pelo lixo no mar.
Então, a 1ª coisa: eu não quero ver lixo no mar. Nem no rio, nem em lugar nenhum. Nem o plástico, nem nada. Por outro lado, a discussão do plástico está levando a um dos itens que são pensados para que esse tratado seja ambicioso, que é a limitação da produção.
E a limitação da produção como uma forma de atingir a produção de óleo, porque o plástico agrega valor ao óleo que é extraído –e torna isso mais viável, mais lucrativo. E tem aí alguns tipos de óleo que são melhores para se produzir plástico, outros que não são, mas o fato é que existe uma relação.
Então, a princípio, produzir menos plástico significa diminuir a pressão por exploração de óleo e significa [instituir] a agenda do clima, reduzir emissões e fazer a transição para uma energia [limpa], para uma economia de baixo carbono, o que é interessante.
O problema é que esse é um ponto crítico, porque as indústrias não querem diminuir lucro.
E aí vem a solução. Como que você trabalha isso para ter uma nova relação da humanidade com o plástico? Não necessariamente vamos ter que continuar produzindo plástico como se produz hoje. Especialmente com alguns tipos de plástico acabando, sendo usados de forma muito efêmera, como de uso único e basicamente predominando nesses espaços marinhos que a gente acaba estudando.
Porque quando a gente fala de uso único, a gente pensa canudo, sacola –não pensa em cigarro, mas cigarro entra também– e copinho. Mas esses não são embalagens. Na verdade, o que predomina no lixo do mar acabam sendo as embalagens, que é o quê? É o saco de arroz, é o saco de macarrão instantâneo. O que mais tem, o item mais abundante que a gente pega nas redes de arrasto de camarão, no programa que a Fundação Florestal do Estado de São Paulo tem de pagamento por serviço [ambiental], é a embalagem de macarrão instantâneo.
E isso nos conecta a uma raiz do problema no Brasil, que é a pobreza. E essa é a comida das áreas dos bolsões de pobreza. Comida barata, uma comida que estufa, é salgada, enfim.
Então, o que acontece? A gente tem aí que, na minha opinião, a gente tem que desvincular essa agenda de transição energética de combater as emissões atacando o plástico ou tentando reduzir a lucratividade do setor. Acho que aí está a lógica.
Na verdade, acho que a quebra de paradigma seria trabalhar: como que o setor consegue lucrar mais produzindo menos ou produzindo diferente? Produzindo com mais segurança, distribuindo com mais segurança. E isso passa por repensar a produção de produtos de uso único e repensar o uso das embalagens.
E aí é pensar um pouco nas alternativas. Por que isso é tão importante, especialmente para o Brasil? O Brasil é o 4º maior produtor de plástico do mundo. É um país que emprega muita gente. São 250, 300 mil pessoas empregadas. São 12 mil empresas. E isso gera PIB, isso gera emprego, isso gera distribuição de renda. Então, não é tão simples assim para um país produtor falar assim: 'ah, beleza, vamos mudar, né?' Como se as alternativas não tivessem impacto também. E nós produzimos todas as alternativas.
A gente produz algodão, produz papel, produz alumínio, produz vidro... E todos eles com alguma pegada. Então, trocar o plástico por outra coisa não é tão simples também para quem produz, porque você vai ter outros impactos. É claro que essa discussão só funciona e só para em pé quando a gente tem a certeza de que nenhum item plástico vai parar no mar.
E é por isso que a gente tem que conjugar soluções dentro do que o pessoal tem chamado de circularidade ou economia circular –e esse é um ponto. Não dá para falar isso sem melhorar a gestão dos resíduos. Não dá para falar isso sem melhorar o design dos produtos. Não dá para falar isso sem considerar a falta de infraestrutura.
Por exemplo, a gente tem produtos que são recicláveis, potencialmente, mas não são reciclados efetivamente. Por quê? Porque não tem infraestrutura para se fazer isso numa determinada localidade. E aí a gente tem um problema. Por exemplo, você pode pensar, 'não posso vender esse produto para aquela localidade', porque aquela localidade não tem infraestrutura.
É a mesma coisa que o vidro no Norte do Brasil. No Norte do Brasil não se recicla vidro, embora o vidro seja reciclável.
E assim, é uma conjugação de elementos e de questões que tornam essa discussão bastante complicada. Ainda mais quando você está em uma situação em que você tem as interdições e você tem os interesses mais objetivos do tipo: 'ah, eu não quero perder lucratividade', como é o caso do setor produtivo, da iniciativa privada. Então, o que vejo é que a gente tem que buscar os caminhos que trazem convergência.
Acho que tem um caminho. E aí isso passa, na minha opinião, pelo setor entender como que ele consegue, em vez de reagir, ter uma postura mais proativa e inverter essa narrativa a seu favor. No sentido de você ter, por exemplo, uma produção de plástico mais alinhada com todas essas preocupações que se tem, e o próprio setor atuar muito mais fortemente no controle social em nível federal, estadual, municipal para que os pontos de vazamento que ocorrem sejam combatidos.
E a solução disso não vai acontecer como a gente espera e como o setor poderia fazer, se a gente não combater uma coisa muito central, especialmente no Sul Global, que é a pobreza. Aí volta para a embalagem de macarrão instantânea.
Então, é uma série de coisas que podem ser feitas, mas que não necessariamente se resolvem no Tratado. Eu acho que o tratado tem que trazer ali os temas mais centrais e contundentes para que a gente consiga fazer esse diálogo no nível subnacional. Para isso, a gente tem que ter compromissos; a gente tem que produzir melhor, produzir diferente, eventualmente produzir menos, eventualmente trabalhar com as alternativas na medida em que elas não sejam mais problemáticas que o plástico, considerando que o plástico não vai fugir para o rio ou para o mar.
A gente tem que trabalhar em cima da gestão, a gente tem que trabalhar em cima da tributação e de vários outros instrumentos que vão fazer isso acontecer. Mas certamente tem um item que eu acho que não é negociável, que são os plásticos problemáticos do ponto de vista dos químicos que são utilizados.
Tem alguns produtos químicos que a ciência já demonstrou que eles são muito prejudiciais à saúde, e esses produtos deveriam ser eliminados. E aí se busca solução. Inclusive, aí eu finalizo esse argumento longo, uma coisa que o Brasil já fez e que precisa fazer mais –e outros países também–, que é fazer com que a via de produção de plástico não dependa do petróleo.
O polietileno verde, que foi produzido uma patente brasileira derivado de cana-de-açúcar, é um polietileno igual a qualquer outro polietileno –só que não vindo de petróleo, mas da cana. Isso faz com que essa discussão cruzada do plástico e do petróleo seja eliminada, e isso é inovação, isso é tecnologia, isso é emprego, isso é uma série de outras coisas que a gente precisa considerar. Enfim, é meio ambiente, é economia, é emprego, é uma série de coisas que a gente tem que considerar em conjunto, e essa é a complexidade que está fazendo com que o tratado não consiga ser finalizado.
Correio Sabiá: Seria o caso então de reduzir o tratado?
Não, seria o caso de buscar a pactuação em cima dessas questões. Acho que o ponto crítico, e que pode ser um espaço de negociação, é o seguinte: 'tudo bem, a gente não vai colocar metas de redução de plástico', como se fossem 'metas de redução de gases de efeito estufa'.
Por exemplo: 'ah, hoje se produz X toneladas [de plástico] e daqui a 10 anos vai ter 30% a menos'. Acho que esse é o ponto mais crítico, porque pode não ser inteligente produzir menos plástico, porque o plástico tem uma finalidade; ele tem uma utilidade. Não necessariamente todos os plásticos.
Tem uma querida amiga francesa, Patrice Ricard, do Instituto Oceanográfico Paul Ricard, que ela trouxe um termo chamado plasticfobia. Aversão ao plástico. E a gente tem que olhar ele [plástico] de forma muito serena e muito robusta, mas não podemos desconsiderar em que contextos ele é a melhor alternativa, considerando pegada de carbono, pegada de lençol freático, consumo de água, uma série de outras coisas, desde que ele não vá parar onde ele não deve parar. E essa questão é inegociável. O plástico não pode sair da cadeia produtiva. Ele tem que ficar aprisionado. Se eu puder brincar com essa palavra, aprisionado na cadeia produtiva.
Tratado de Alto Mar
Correio Sabiá: Perfeito. Queria abrir o espaço para o senhor colocar algum tema que a gente eventualmente tenha deixado passar.
Acho que o tema importante e que a gente precisa superar é a ratificação, o Brasil, ratificar o Tratado de Alto Mar, o tratado de biodiversidade além das jurisdições nacionais. Ele foi aprovado em 2023 e de lá para cá nas Nações Unidas os países têm que ratificar para ele entrar em vigor. Ele não entrou em vigor ainda, e o Brasil é um país importante nesse contexto. Então, essa é uma agenda fundamental.
Mineração de mar profundo
Outra agenda importante é a mineração de mar profundo. Existe um movimento muito amplo e profundo no mundo em relação a como você vê isso, como você vê a mineração de mar profundo dentro de um contexto, um conceito de sustentabilidade.
O mundo está muito preocupado, de forma que há países que defendem uma moratória, outros uma pausa de precaução e outros, a exploração. Esse é um tema extremamente preocupante, porque os ambientes de mar profundo são extremamente sensíveis além de pouco conhecidos, tanto quanto a biodiversidade quanto a sua função no sistema oceânico e no sistema terrestre. Então, daria também atenção a esse elemento.
Agenda 30x30
Acho que é importante reforçar também a agenda da Convenção de Diversidade Biológica para ter pelo menos 30% de áreas protegidas. Efetivamente protegidas até 2030, porque, sem isso, não vamos conseguir dar um pouco de fôlego, não vamos conseguir dar um pouco de paz, de condições para que o oceano consiga funcionar; consiga manter a biodiversidade funcionando a ponto de manter os benefícios que o oceano provê para as pessoas.
Então isso seria um mínimo para que a gente consiga continuar tendo uma relação muito positiva, muito saudável com o oceano. Então, são 3 pontos que destacaria e que a gente precisa fazer. E, obviamente, é fundamental que a gente continue apoiando a Década do Oceano que finaliza em 2030 e que a gente consiga estruturar uma agenda global de oceano pós-2030, porque em 2030 também a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da ONU finaliza, e lá temos o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14, que é Vida na Água.
O que acontecerá depois de 2030 é o que está sendo discutido agora, e eu vejo que o lugar do oceano tem que estar garantido como um tema central e bem transversal na discussão da sustentabilidade do planeta.
Autor

Jornalista e empreendedor. Criador/CEO do Correio Sabiá. Emerging Media Leader (2020) pelo ICFJ. Cobriu a Presidência da República.
Inscreva-se nas newsletters do Correio Sabiá.
Mantenha-se atualizado com nossa coleção selecionada das principais matérias.



